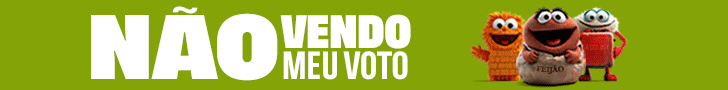O movimento “desfinancie a polícia” (“defund the police”, em inglês) ganhou destaque durante o auge dos protestos do Black Lives Matter, em 2020. Mesmo assim, políticos tradicionais logo se distanciaram dessa retórica, enquanto quatro quintos dos afro-americanos disseram à Gallup que gostariam de ver a mesma, ou até maior, presença policial onde vivem. Nos anos seguintes, os eleitores das áreas democratas rejeitaram ideias de “desfinanciamento” nas urnas, enquanto os líderes democratas temiam que a ala antipolícia do partido minasse sua coalizão eleitoral.
Agora, com Donald Trump de volta à Casa Branca e uma “mudança de clima” favorável à direita permeando o debate público nos Estados Unidos, a ativista canadense do Black Lives Matter Sandy Hudson tenta mais uma vez com “Defund: Black Lives, Policing, and Safety for All” (Desfinanciar: Vidas Negras, Policiamento e Segurança para Todos. Pantheon, 288 págs., US$ 29).
O livro, porém, não consegue sustentar o enorme peso do projeto que propõe. Desde o início, Hudson deixa claro que defende a abolição completa da polícia — e não apenas reformas ou cortes orçamentários marginais. Trata-se de uma proposta radical, ainda mais difícil de ser aceita hoje do que em 2020.
Se as leis não forem respaldadas por uma ameaça de repressão policial, o leitor médio se preocupará, pois um pequeno segmento da população tornará a vida insuportável para o resto de nós — seja por meio de violência e roubo, seja usando a calçada como banheiro.
Polícia como fator inibidor
Alguém familiarizado com a pesquisa acadêmica sobre crimes poderia acrescentar que os policiais impedem o crime por meio de sua presença; podem ser especialmente eficazes ao se concentrarem em pontos críticos ou em reincidentes; são necessários para efetuar prisões, levando infratores graves ao tribunal para que possam ser incapacitados; e parecem ser uma maneira econômica de reduzir a criminalidade. Um nova-iorquino talvez se lembre de como um policiamento melhor transformou a cidade na década de 1990.
Na tentativa de desconstruir tais percepções, o livro enfatiza episódios de má conduta policial, minimiza de forma pouco convincente a contribuição das forças de segurança para a proteção pública, desmerece propostas de reforma amplamente apoiadas e sugere alternativas insatisfatórias para a redução da criminalidade.
Hudson revisita inúmeros abusos históricos e contemporâneos — desde o papel das forças policiais na manutenção da escravidão até tiroteios injustificados de grande repercussão, passando por estudos que identificam viés racial na aplicação da lei (um tema complexo que mereceria análise mais profunda). É claro que qualquer defensor honesto da polícia deve admitir que agentes não são infalíveis. Leis injustas podem levar a polícia a desempenhar papéis condenáveis, e tanto lideranças quanto o público devem manter vigilância constante contra corrupção, abuso e discriminação.
No entanto, os leitores não devem tomar a apresentação de Hudson como a expressão última da verdade. Ao condenar, por exemplo, o uso de táticas de controle de distúrbios pela polícia contra manifestantes em Standing Rock — que protestavam contra um trecho do Oleoduto Dakota Access próximo a uma reserva indígena americana —, ela omite que os protestos, massivos e prolongados, envolveram bloqueios de rodovias e até incêndios de veículos.
Ao narrar como o assassinato de Michael Brown, em Ferguson, Missouri, impulsionou um movimento de protesto, Hudson lembra que a expressão “mãos ao alto, não atirem!” se tornou um “grito de guerra”, mas não menciona que a versão inicial dos acontecimentos — que embasou esse slogan — jamais foi confirmada.
É possível reconhecer que a polícia às vezes age de maneira equivocada ou até criminosa, sem, por isso, apoiar sua abolição. Hudson, entretanto, procura desqualificar o papel das forças policiais na segurança pública. Não refuta as principais linhas de pesquisa que apontam a relação direta entre o efetivo policial, suas táticas e a redução da criminalidade.
Em vez disso, destaca que a maior parte do tempo da polícia é dedicada a patrulhas rotineiras e à aplicação de leis de menor gravidade, não à investigação de crimes violentos, além de lembrar que muitos delitos — como estupro e arrombamento — frequentemente não são denunciados ou resolvidos.
É evidente que o policiamento poderia ser mais eficiente com táticas otimizadas e melhores índices de resolução de crimes, mas a existência de margem para melhorias não significa que os benefícios atuais do policiamento sejam irrelevantes. Mesmo uma probabilidade relativamente baixa de punição pode funcionar como forte fator de dissuasão. A simples presença de agentes nas ruas já exerce efeito inibidor local. Além disso, a polícia resolve uma proporção significativa de diversos crimes interpessoais, incluindo cerca de metade dos homicídios — benefícios que, certamente, não são desprezíveis.
Nos capítulos finais do livro, Hudson descreve os esforços de reforma policial como fúteis e esboça maneiras de controlar o crime em um mundo sem polícia.
Quanto à reforma, sua premissa parece ser que, se uma proposta apresenta alguma limitação ou falha, ela deve ser descartada. Câmeras corporais? Segundo Hudson, mostram apenas a perspectiva do policial, levantam questões de privacidade e nem sempre reduzem o uso da força, conforme indicam alguns estudos. Conselhos civis de revisão? Não teriam autoridade suficiente e, muitas vezes, se aliariam à polícia. Armas menos letais, como os tasers? Hudson sustenta que agravam situações tensas e, ocasionalmente, são letais. Automatizar a aplicação da lei para reduzir a discricionariedade policial? “O problema é que robôs também são racistas”, ironiza.
A abordagem de Hudson às alternativas policiais adota uma postura mais generosa em relação a evidências e compensações. “Não precisamos de todas as respostas para construir algo novo”, ela insiste.
Sua discussão aqui contém um importante grão de verdade. A polícia não é a única que pode reduzir a criminalidade ou resolver problemas menores. Pode-se, por exemplo, melhorar a iluminação pública, transformar terrenos baldios em áreas verdes, otimizar o trânsito com projetos viários inteligentes ou oferecer apoio em saúde mental e assistência social.
Algumas situações podem ser resolvidas por profissionais não policiais — como agentes de saúde pública ou fiscais —, deixando a polícia para tarefas em que sua vantagem comparativa é mais evidente. Em certos casos, pode até fazer sentido descriminalizar comportamentos específicos — embora experiências como a descriminalização das drogas, frequentemente citada, estejam longe de ter produzido os resultados auspiciosos que seus defensores prometiam.
No entanto, a principal função da polícia continua sendo confrontar infratores que desafiam todos os demais. É por isso que ela é indispensável para efetuar prisões e uma das razões pelas quais sua mera presença contribui para reduzir a criminalidade.
Ao tentar explicar como crimes violentos poderiam ser tratados sem polícia, Hudson propõe “começar do zero”, delineando seis elementos necessários quando ocorre violência. Três deles são: “incapacitar a parte violenta de causar danos”, “levar a parte violenta a um local mais seguro onde possa receber apoio” e “avaliar como responsabilizar os responsáveis”. Frequentemente, tais medidas requerem o uso, ou pelo menos a ameaça, de força física. No entanto, Hudson não explica quem exercerá essa força se não for a polícia ou algum equivalente funcional — limitando-se a citar grupos comunitários sem fins lucrativos que medeiam conflitos.
Ao tentar explicar como crimes violentos podem ser tratados sem a polícia, Hudson quer “começar do zero”, delineando seis coisas que precisamos quando a violência ocorre. Três delas são “incapacitar a parte violenta da capacidade de causar dano”, “levar a parte violenta para um local mais seguro onde possa receber apoio” e “avaliar como responsabilizar os responsáveis”. Frequentemente, todas essas três medidas exigirão força física ou a ameaça implícita dela. No entanto, em vez de explicar quem forneceria essa força, se não a polícia ou um equivalente funcional, ela passa a falar sobre grupos antiviolência sem fins lucrativos que mediam conflitos.
Correlação errônea entre pobreza e criminalidade
Hudson também insiste em associar criminalidade e pobreza, dando excessiva importância à ideia de que uma rede de proteção social mais robusta poderia evitar muitos crimes. Sua paixão por essa linha de pensamento fica mais clara em uma anedota sobre dois assaltantes de joalheria que se envolveram em um tiroteio com o dono da loja, sequestraram um caminhão da UPS (rede de entregas americana) enquanto mantinham seu motorista refém e se envolveram em outro tiroteio com a polícia quando eles a alcançaram.
A polícia fez um péssimo trabalho neste caso. Duas pessoas inocentes foram mortas no fogo cruzado, incluindo o refém, e vários policiais enfrentam acusações de homicídio culposo. Não se contentando com isso, no entanto, Hudson observa que os dois assaltantes já tinham condenações anteriores e, como condenações anteriores dificultam a subsistência, “talvez esses indivíduos sentissem que não tinham outra escolha a não ser tentar algo arriscado para sobreviver”. Na visão de Hudson, toda a instituição policial é irredimível, mas certamente criminosos violentos devem ter alguma desculpa razoável.
É certamente verdade que as taxas de criminalidade são maiores entre os pobres, mas a relação entre recessões econômicas e criminalidade é complexa e inconsistente, sugerindo que há mais por trás da história do que apenas pobreza. Por exemplo, os mesmos traços de personalidade que levam ao comportamento criminoso, como a impulsividade, provavelmente também prejudicam o desempenho econômico de um indivíduo. Enquanto isso, a grande maioria dos pobres não rouba lojas nem se envolve em tiroteios — eles são aterrorizados por aqueles que o fazem.
Na visão de Hudson de um futuro sem polícia, a sociedade gasta enormes quantias de dinheiro em formas indiretas de prevenção ao crime — de assistência social a banheiros públicos (a chave para impedir que se urine em público) — e, mesmo assim, trata com delicadeza aqueles que infringem a lei. Além de politicamente improvável, essa é uma receita para o caos, não para a tranquilidade.
Robert VerBruggen é bolsista do Manhattan Institute.
©2025 City Journal. Publicado com permissão. Original em inglês: The Fantasy of a World Without Police
noticia por : Gazeta do Povo